|
A Corunha (Austrália)
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 09-05-17]
My Place (1987) é umha novela autobiográfica da australiana Sally Morgan que co passo do tempo se tornou clássica, até o ponto de ser de leitura obrigatória em muitas escolas. É a história dumha rapariga que a medida que medra decata-se de que hai algo “diferente” nela. As companheiras na escola perguntam-lhe de onde é (“Es índia?”), ao que ela nom sabe que respostar. Quando traslada a pergunta à sua nai, esta responde: “Di-lhes que si, que somos da Índia”. Irmá, nai e avoa confabulam-se para ocultarem a sua ascendência aborige: “Podes ser índia, holandesa, italiana, o que che pete, qualquer cousa agás aborige”, sentencia a sua irmá.

My Place bem reflicte os efectos da colonizaçom branca: nom só lhe roubárom as terras à populaçom aborige, nom só os caçárom e envenenárom, nom só os mantivérom como escravas e escravos, senom que tamém os terratenentes violavam a esgalha e as famílias brancas seqüestravam e adoptavam as crianças que puderam ter umha pinga de sangue branco para educá-las nos “valores” europeus. Essas crianças conformam as chamadas “geraçons roubadas”, umha prática que durou mais de cem anos e pola que, finalmente, o primeiro ministro australiano tivo que pedir perdom oficialmente.
Austrália é um país cimentado no racismo (como os EUA, que se independizárom do Reino Unido para poderem continuar beneficiando-se dum tráfico de escravos ilegalizado pola metrópole), um racismo económico e étnico que pretendeu, já que nom fisicamente, eliminar toda traça cultural, lingüística e política da populaçom autóctona.
Nessa situaçom se topa Sally, a protagonista de My Place: perdeu terra, idioma, cultura, mesmo o nome. A perversidade da colonizaçom branca incluso a fai envergonhar-se das suas raízes (um auto ódio bem conhecido pola cidadania galega), que irá descobrindo e recuperando pouco a pouco. É tal a sua cegueira que nem sequer é quem de ver a negritude da pel da sua avoa.
Sally, que vive em Perth, na Austrália Ocidental, descobre que a sua família procede do norte, dum lugar chamado Corunna Downs Station, onde trabalhavam como criados. É Alice Drake-Brockman, a antiga proprietária de Corunna, quem explica a orige do nome: “Foi meu marido o que lhe puxo o nome de Corunna Downs [Planalto da Corunha]. Hai um poema ‘Corunha’. Estava a ler um livro daquela cos nativos, e nel havia um poema sobre Corunha. Creo que está na Espanha, assi que lhe puxo esse nome à fazenda.”
 A vivenda de Corunna Downs em 1890 Que poema poderia estar a ler o seu marido? Rosalia nom, com toda seguridade. Buscando versos ingleses sobre “Corunna” dim com um patriótico poema, admirado por Lord Byron e recolhido em numerosas antologias, chamado “The Burial of Sir John Moore after Corunna”, publicado anonimamente em 1817 e cuja autoria corresponde a um sacerdote irlandês chamado Charles Wolfe. O poema trata do pouco cerimonioso enterro do general escocês John Moore tras ser ferido mortalmente polos franceses na batalha de Elvinha. Assi começa:
Nom se ouviu um tambor nem nota fúnebre,
às presas co cadáver p’ra a muralha;
nengumha salva de adeus dos seus soldados
sobre a tumba onde jaz o nosso heroe.
A palavra “Corunna” do título nom se volve repetir no poema.
A tumba de John Moore pode-se visitar no jardim de Sam Carlos da Corunha. Ali, talhados em mármore, podemos ler alguns versos do poema de Wolfe e, ao seu carom, tres estrofes de Rosalia de Castro tiradas do seu longo poema “Na tumba do xeneral inglés Sir John Moore, morto na batalla de Elviña (Coruña) o 16 de xaneiro de 1809”, escrito em 1871. Rosalia, ao igual que Wolfe, incide no tema da morte em terra alhea, “tomba onde naide vai a chorar”, para rematar louvando o país e a terra de acolhida: “Que fermosa e sen igual morada lle coupo en sorte ós teus mortales restos!” Indirectamente, um canto à emigraçom galega.
E assi voltamos a Austrália, país de imigrantes, onde surgiu esta peculiar Corunna Downs Station que mesmo funcionou como aeródromo secreto na segunda guerra mundial. Quais som os nomes verdadeiros, aboriges, das personages de My Place? Nunca o saberemos. Conhecemos os seus nomes e apelidos actuais: Daisy Corunna, Gladys Corunna, Arthur Corunna… Assi como os escravos nos EUA recebiam os apelidos dos seus amos, esta família aborige adquire o nome da fazenda na que servem: os criados como propriedade. Nomear é possuir. De aí a importância da aniquilaçom cultural é lingüística para o poder ocupante, de aí a necessidade da resistência lingüística e cultural para a sobrevivência política.
Mapas políticos e mapas físicos, ou Hai lémures em Europa?
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 09-10-17]
De cativo, na escola, sempre me surprendia o dado de que a montanha mais alta do Reino de Espanha fosse o Teide, um afastado volcám que se topava além o oceano. Tampouco nom entendia a existência da Europa como continente, pois contradizia a definiçom do termo. A medida que um ia madurando politicamente começava a entender a orige destas mentiras lingüísticas que, no fundo, eram (som) mentiras políticas. Obviamente, como íamos compartir território cos asiáticos, nós, tam civilizados? Se fai falta, erguemos uns muros (os montes Urais, o Cáucaso) e dividimos Eurásia em dous continentes fictícios. E que passa com Geórgia, integrada no Conselho de Europa, ao igual que o Azerbaijám? Se som Europa, daquela o vizinho Irám tamém é Europa? Ou só formam parte de Europa os países que nós queremos? O mapa político esfaragulhava-se-me entre as maos.
 A “mesquita mais velha da França”. Maoré (Mayotte) e a Reuniom som dous departamentos de ultramar da França, e por tanto território Europeu. Na realidade, temos que dizer que som duas ilhas do Oceano Índico ocupadas pola França, em contra das directrizes anti-coloniais da ONU. Em tanto a Reuniom é (culturalmente) 70% francesa e católica (apesar da grande variedade genética euro-afro-asiática), Maoré é um 95% africana e musulmá. Nom hai mais que botar-lhe umha olhada aos nomes das vilas dumha e outra ilha para fazermo-nos umha idea: St-Denis, St-Pierre, St-Paul, Ste-Suzanne por umha banda; Dzaoudzi, Mamoudzou, Chingani, Mtzamboro pola outra.
Em ambos casos o mapa político delata umha injustiça (e ilegalidade) histórica. Por muito que a populaçom de Maoré votasse em referendo a permanência na França (“Permanecer na França para seguir sendo livres” era o lema da campanha), para a ONU, apesar do esperado veto da França, Maoré segue a ser parte inalienável das Comores.
Ao princípio de La Sirène du Mississipi (François Truffaut, 1969) Jean-Paul Belmondo percorre a estrada que vai de Le Port a Saint Denis, na Reuniom. Esta estrada, em loita contínua cos derrubamentos da escarpa pola que discorre e baixo os constantes ataques do oceano, é a dia de hoje a “estrada mais cara da França”, segundo a imprensa local, umha França que, no mapa físico, está a uns quantos milheiros de quilómetros de distância. E na costa oeste de Maoré um pode achegar-se a Tsingoni para visitar o fermoso mihrab da sua mesquita do S XV; si, efectivamente: trata-se da “mesquita mais velha da França”. Penso no Teide.
 Mihrab da mesquita de Tsingoni. Porém, quando a actividade humana, e portanto política, se deixa de lado e nos centramos na natureza, a geografia recupera a sua realidade. O papangue é a única ave rapaz da Reuniom e, dim, umha das mais ameaçadas “de África”.
Os mapas políticos, quando contrapostos aos mapas físicos, revelam a História em toda a sua crueza, destapam as suas incongruências e reflictem os seus anacronismos. A geografia é teimuda e é quem de esbaralhar, dumha soa olhada, as nossas mais queridas construçons políticas: aí está a geografia de Gibraltar e do Ulster, de Ceuta e Melilha, loitando contra as fronteiras políticas impostas polos poderes coloniais.
De cativo, na escola, aprendim que os lémures eram endémicos de Madagáscar. Logo soubem que umha espécie de lémur, conhecida como maki, habita as vizinhas Comores, em concreto Maoré, onde os seus grunhidos avisam da sua presença brincadeira nas copas das árvores. Se miro o mapa físico todo encaixa. Mas quando vejo o mapa político nom tenho outra que aceitar que hai lémures em Europa.
Os cans non comprenden a Kandinsky
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 07-01-18]
Se a definiçom de actriz é aquela persoa que finge que nom está a fingir, daquela AveLina Pérez nom é actriz. Porque AveLina Pérez curtocircuita o fingimento e simplesmente está, simplesmente é ela sobre o cenário, sem artifícios, sem personages, sem máscara. Lina Pérez é a sua própria personage, ou (re)cria-se a si mesma como personage ante o público.

Mas AveLina Pérez é umha mulher de teatro, até o cerne, e o que semelha natural e espontáneo e improvisado está profundamente trabalhado e meditado e ensaiado; mas sem fingimentos, com verdade. Pérez expressa-se através das suas postas em cena e os seus textos convertem-se em manifestos políticos. Porque a sua obra é profundamente política e libertária. E os seus textos, nunca fixos, evoluem e cámbiam com ela no tempo. Ela é os seus textos, e em A que non podes dicir cocacola ou Os cans non comprenden a Kandinsky está ela soa no cenário, ela coa sua palavra, como se um elenco maior redundasse no artifício e convertesse a protesta em trabalho. Lina espida, a palavra espida; a palavra ispe a Lina porque Lina na realidade está a falar de si mesma. O seu posicionamento político é rebeldia persoal; numha sociedade castrada e adormecida Lina nom se deixar domar. E berra. O berro sujo que é Os cans non comprenden a Kandinsky.

AveLina Pérez deixou um trabalho estável para poder dedicar-se ao que lhe gosta, ao teatro; deixou um trabalho estável para poder viver. A sua crítica a esta sociedade capitalista e consumista que renúncia à vida e ao lecer para perder-se num círculo vicioso de trabalho-consumismo tomou corpo na sua obra Gañaremos o pan co suor da túa fronte. O nome da companhia: Tripalium. Busco no dicionário a etimologia da palavra “trabalhar”: do latim tripaliare=torturar. E que é o negócio senom a negaçom do ócio? Ante o trabalho como obriga social (para que o patrom se enriqueça a conta nossa), o direito à preguiça como arma anticapitalista.
Com certa freqüência Lina, para sobreviver, ganha concursos de dramaturgia breve ou teatro radiofônico. É curioso que, de momento, nunca levasse esses textos ganhadores aos cenários, como se se avergonhasse deles, meros jogos de entretenimento e alimentares que nom som dignos de maior consideraçom. Lina fuge da frivolidade, da arte como entretenimento, porque conhece o poder da palavra. Toda palavra que nom sirva para loitar contra este sistema opressor será palavra conformista que ajuda a apontoá-lo.

É por isso que tampouco nom se sentiria cómoda trabalhando numha companhia teatral ao uso, porque, teatro ou nom teatro, seria “trabalho”. O seu som as baiucas, os cabarés, os pequenos lugares alternativos, como essa Sala Montiel efêmera e itinerante na que representou, em Compostela, a sua última peça, Os cans non comprenden a Kandinsky, um monólogo sujo, escuro, feo, um espectáculo teatral sem acçom e sem teatralidade. Ou isso é que nos quer fazer crer, porque se trata dumha “inacçom desganada e ridícula como alternativa”; e essa é a palavra chave: “alternativa”, sacar ao público da sua zona de confort e fazê-lo pensar, resistir, rebelar-se. Contra a própria obra se fai falta.
Num curruncho do cenário pode passar desapercebida umha mesa sobre a que umha boneca ergue umha pancarta que di “EU + coraçom + código de barras”: “Eu amo os códigos de barras”. Ou bem (num significado ainda mais tétrico) “Eu amo”, pero este amor meu, com código de barras, é um amor de compra-venda. A boneca reproduz a posiçom da actriz ao início do espectáculo: braços em alto, o cartaz que Lina enarbora di “Je suis artiste”. Mas paremo-nos um chisco antes de pensar que entendemos a mensage. Se caímos na tentaçom de interpretá-la como reivindicaçom boémia da liberdade da artista, que nom se sujeita às normas sociais, lembremos que, como a da boneca, a pancarta de Lina exibe um código de barras que questiona tal liberdade. Do micrófono pendura um código de barras, e todos os objectos da mesa (e do cenário) estám marcados a fogo por cadanseu código de barras. Todo se merca e se vende. Nom há existência além do código de barras.
Lina busca umha alternativa, na vida e no teatro, umha vida e um teatro sem códigos, livres e, como tal, subversivos. O discurso em si, a possibilidade de expressar-se, é revolucionário. Nom deixemos que no-lo roube o capital, que mesmo merca e vende revoluçons.
E um sai da obra cheo de teatro e de poesia e de beleza. O teatro de AveLina Pérez, feito de sinceridade, ironia e humor, muito humor, é isso e muito mais.
A aldea na selva de Leonard Woolf e a novela colonial britânica
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 25-04-18]
Quiçá a obra mais conhecida da literatura colonial britânica seja a Passage para a Índia (1924) de E. M. Foster, que tira o seu título do poema homônimo de Walt Whitman. Nela, umha moça inglesa de visita na Índia acusa de assalto sexual a um médico índio que a acompanha numha excursom. Esta falsa denúncia desencadea os prejuízos e rompe as frágeis relaçons raciais entre a cidadania índia e os colonizadores britânicos. Porém, a crítica política está ausente e a novela nom é quem de condenar o imperialismo do Reino Unido.
No ano da publicaçom de Passage para a Índia George Orwell servia como polícia na Birmânia, daquela integrada administrativamente na Índia ocupada. Desta experiência naceu a sua primeira novela, Dias na Birmânia (1934), cujo argumento tem moitas semelhanças co da novela de Foster. Dias na Birmânia é umha obra existencial e pessimista, e é este pessimismo o que lhe permite adentrar-se na area política para condenar o imperialismo britânico, essa “mentira de que estamos aqui para educar os nossos malpocados irmaos negros em vez de para roubá-los”. O mercador Flory, o protagonista, topa-se numha posiçom incômoda: os seus compatriotas desprezam-no polas suas amizades birmanesas e polo seu igualitarismo, entanto a populaçom nativa nom pode deixar de sentir ante el o desequilíbrio de poder. Nesta ruela sem saída Flory opta por quitar-se a vida.
Duas décadas despois Anthony Burgess publicou a sua primeira obra de ficçom, a trilogia malaia O longo dia míngua, que toma o título dum verso do poema Ulisses de Lord Tennyson. Publicadas entre 1956 e 1959, as tres novelas (A hora da cerveja, O infiltrado e Leitos orientais) repetem o consabido tema das tensons raciais, mas desta vez a insurgência independentista e comunista entra de cheo na ficçom: estamos nos estertores do império. A trilogia, dedicada em malaio “a todas as minhas amizades malaias”, conta de novo como protagonista cum expatriado britânico, um paternalista Victor Crabbe, que neste caso exerce de professor de história e, como bom colono, ve-se no dever de loitar contra o “terrorismo” da guerrilha. Leitos orientais remata coas celebraçons da independência do país.

Mas moitos anos antes de todo isto Leonard Woolf (marido de Virginia, a quem está dedicada a novela) publicara A aldea na selva (1913), situada no sul de Ceilám (actual Sri Lanka) onde Woolf trabalhara durante uns anos como magistrado. Como no caso de Orwell, a experiência colonial como parte da engrenage opressora apontoou as suas convicçons anti-imperialistas e socialistas. A aldea na selva afasta-se das novelas comentadas arriba num aspecto fundamental: está narrada desde o ponto de vista da populaçom nativa, e a única personage europea, moi secundária, é o juiz britânico que, apesar de comprender e simpatizar cum dos protagonistas, acaba condenando-o.
Esta primeira novela de Woolf tampouco se dedica a indagar na burguesia nativa, senom que opta por se achegar às zonas rurais mais deprimidas para denunciar as injustiças padecidas polas classes desfavorecidas e de passo fazer umha crítica das relaçons de poder. A família de Silindu é desprezada por viverem como veddahs (a etnia nativa de Sri Lanka).
A superstiçom, os matrimônios nom tolerados, os matrimônios forçados, as dévedas impagáveis e as falsas acusaçons de roubo levam ao velho Silindu a cometer dous assassinatos, o do pedáneo (correa de transmissom do poder colonial) e o do prestamista, símbolo do capital opressor. Como o velho e manso búfalo, Silindu revira-se com força quando ferido e acurralado. A selva que rodea a aldea acaba impondo nom só a sua lei na sociedade humana desta pequena aldea de dez choupanas, mas tamém reclama o que é seu, o próprio território: passado o tempo só ficará umha soa cabana habitada, a de Punchi Menika, filha de Silindu, despois de pai e marido morrerem na cadea. Ao final da novela um javaril, que Punchi Menika interpreta como o dianho da selva, provocará a sua morte, e com ela a morte da aldea.

Pablo Neruda afirma nas suas memórias que a novela de Woolf é “uno de los mejores libros que se haya escrito jamás sobre el Oriente, obra maestra de la verdadera vida y de la literatura real.” Porém apenas é conhecida em Ocidente, a figura de Woolf apagada pola sombra gigante da sua mulher. Mas a verdadeira razom deste esquecimento há que buscá-la no feito de que o protagonista da sua novela nom é branco: o narrador mostra em todo momento o ponto de vista indígena. E é este mesmo feito o que acabou introduzindo a novela no cánon literário srilankês, como se Woolf fosse um mais dos seus escritores. Baste isto para evidenciar a falta de orientalismo e paternalismo na sua novela, pecados dos que dificilmente escapam narraçons como a de Foster.
A adaptaçom cinematográfica de Lester James Peries, Beddegama (1980), é umha mostra mais do apreço do que goza a novela em Sri Lanka. Beddegama nom se distingue doutras películas de Peries, como Gamperaliya (1963), baseada num clássico literário srilankês: em ambas temos a mesma olhada local e directa. Na sua adaptaçom Peries prescinde dos dous últimos capítulos d’A aldea na selva, nos que Woolf detalha o longo caminho de Silindu até a cadea. Prefere rematar cumha breve voz narrativa que nos conta o destino dos dous homes presos, e coa espera de Punchi Menika a que um demo da selva, surgido dum leopardo, venha buscá-la.
A primeira image de Beddegama é a do esqueleto dum búfalo, metáfora dumha seca que nom deixa prosperar a aldea, mas tamém da lei da selva, que reclama o que é seu. A novela de Woolf começa cumha detalhada descriçom da selva e as suas leis, que acabarám sendo as da sociedade humana. Peries sintetiza esse primeiro capítulo com images documentais dum leopardo apressando um porco bravo. É o mesmo leopardo que, transformado em demo, acabará coa última habitante da aldea ao final da película.
 Arthur C. Clarke na película Beddegama. Tamém troca Peries o devir temporal lineal da novela ao converter toda a narraçom numha reminiscência. A película apresenta-nos a um representante britânico (Leonard Woolf, interpretado por outro escritor inglês exilado em Sri Lanka, Arthur C. Clarke) que visita Beddegama, a aldea na selva, e rememora todo o acontecido anos atrás. Um octogenário Leonard Woolf efectivamente visitara os cenários da sua novela em 1960. Mas o recurso temporal de Peries nom deixa de ter um paralelismo na própria escrita da novela, redactada em Inglaterra a partir das memórias de Woolf da sua estância em Ceilám.
A música mecánica de Pierre Bastien
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 28-05-18]
O 12 de maio passado o músico francês Pierre Bastien actuou no Liceo Mutante de Pontevedra. O elemento visual é tam importante nas actuaçons de Bastien que chega a ser imprescindível. A sua música mecânica funciona melhor em directo, quando vemos o que escoitamos e escoitamos o que vemos. A sua é umha música concreta e materialista, composta de engrenages que movem resortes ritmicamente, de correntes de ar que movem flocos que aleatoriamente fam soar as cordas dum instrumento ou convertem em som a rigidez de cravos de diferentes longitudes e portanto de diferentes afinaçons. O ruído emitido pola mecânica das rodas giratórias integra-se na música produzida polos resortes por elas movidos. E por riba de todo isto o músico toca estranhos instrumentos, de outras épocas e outros territórios, às vezes com peculiares acessórios incorporados, como essa trombeta de peto de cuja surdina sai um tubo que conduze a música até um recipiente de água: música aquática.
 O mecano de Bastien em descanso. Som mais os elementos que convertem os concertos de Bastien em excepcionais. Para entendê-lo, descrevamos o cenário: No centro da mesa de trabalho está o mecano do músico, umha estrutura rectangular com rodas e resortes que produzem o elemento rítmico da música. Os movimentos do mecano som recolhidos por umha pequena cámara, ancorada na mesa, e projectados numha grande pantalha no centro do cenário. Podemos ver a (mecánica da) música bem em directo, a tamanho real, ou bem filtrada polo objectivo da cámara, ampliada e convertida em película sobre a parede.
Contra a parte posterior do mecano, no que cobra vida o elemento rítmico, projectam-se por momentos bucles melódicos. Som images fantasmais em preto e branco nas que vemos detalhes de maos tocando o piano, ou tambores, ou vasos de fino cristal. Som images de mais de 70 anos de antigüidade: o carácter espectral vém obrigado polas leis sobre propriedade intelectual. E estas images monocromas, superpostas ao colorido da estrutura rectangular, som igualmente recolhidas pola cámara e convertidas em cinema na pantalha.
 Pierre Bastien no Liceo Mutante. E sobre o ritmo mecánico das engrenages e sobre as melodias de velhos músicos montadas em bucle, e por tanto rítmicas ao tempo que melódicas, Pierre Bastien coloca a música produzida polo seu corpo em directo, seja tocando instrumentos de corda doutras latitudes ou a sua reconhecível trombeta de peto. Bastien toca estando presente na sala mas ficando ausente da projecçom de fundo, ausente desse rectángulo de projecçom que vem a ser o rectángulo do seu mecano, agás quando introduz as maos no enquadre para colocar, retirar ou modificar peças; ou quando lhe interesa destacar o aspecto visual da música que está a tocar, como quando introduz o apêndice aquático da trombeta diante da cámara, eclipsando o resto das images.
As images que a cámara recolhe som dumha grande plasticidade, que contrasta coas images em preto e branco das actuaçons preexistentes. O velho e o novo, o alheo e o próprio, o mecánico e o humano, combinados num espectáculo audiovisual difícil de esquecer. E todo cabe numha maleta. Mas este home-orquestra dispom de várias maletas, cada umha coas suas características, cada umha desenhada para um tipo concreto de concerto ou para umha sala dumhas características concretas. Música concreta, em definitiva.
A semente mais erótica
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 13-07-18]
 Inflorescência masculina e fruto feminino na porta duns banhos na Côte d’or de Praslin. Nas ilhas de Maldiva nasce a planta
No profundo das águas, soberana,
Cujo pomo contra o veneno urgente
É tido por antídoto excelente.
 Lodoicea maldivica numha moeda das Seychelles. Assi descreve Luís de Camões, nos Lusíadas (canto X, estrofe 136), esse estranho e cotizado fruto (“pomo”) que hoje chamamos coco-do-mar ou coco duplo e que crece unicamente em Praslin e Curieuse, duas ilhas do arquipélago das Seychelles. Mas quando Camões fazia a sua descriçom do mundo conhecido as Seychelles, desabitadas, estavam ainda por descobrir. Daquela, como é que conhecia os frutos dumha planta nunca até entom vista? Porque os marinheiros que sulcavam o Oceano Índico os viam subir desde as profundidades marinas para boiar na superfície e deixar-se levar até as praias das Maldivas. De aí que pensassem que “a planta nasce no profundo das águas”, e de aí que o nome científico (Lodoicea maldivica) faga referência às únicas ilhas conhecidas daquela entre a Índia e Madagáscar (“nas ilhas de Maldiva”).
 Visado com carimbo em forma de coco-do-mar. O coco-do-mar é a semente mais grande do planeta e sem dúvida a mais erótica. A palmeira fémia produz um fruto com forma de coxas de mulher, co seu correspondente púbis, entanto a planta macho exibe umha fálica e igualmente enorme inflorescência. Os cocos duplos podem chegar a pesar 30 kg e tardam entre 6 e 7 anos em madurecer e outros 2 ou 3 em germolar. Isto, junto co feito de que afundem no mar e só aboiam quando começam a apodrecer, polo que nom som quem de colonizar novas praias, explica a rareza da planta. E esta rareza, unida ao atractivo erótico (e, para algumha gente, medicinal, como confirma Camões na sua estrofe), justifica o excessivo zelo que as autoridades das Seychelles exercem sobre o fruto. Nos mercados de Victoria, na ilha de Mahé, o preço dum coco-do-mar nom baixa dos 200 ou 250 euros; e a transaçom há de incluir um certificado da sua proveniência que um deve apresentar à polícia ao sair do país.
 Coco-do-mar com selo de garantia. Estas “fermosas nádegas” (esse é o significado dum nome prévio da planta, Lodoicea callipyge) já se cotizavam no século XVI, quando a nobreza europea os polia e decorava com joias como sinal de linhage. Hoje esta planta e o seu fruto é o símbolo mais reconhecível do país, que tanto pode aparecer numha moeda de 5 rúpias como no carimbo do visado de entrada ao país.
 Autorizaçom para exportar coco-do-mar.
Famadihana, a volteadura dos ossos
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 22-12-18]
Nom existe umha teleologia da vida. A nossa existência nom tem mais sentido que a de umha pinga de água caindo na montanha. Mas certas gentes insistem em pregarem desígnios cósmicos para essa pobre gota, convertendo-a em mensageira divina à que se lhe adjudica a missom de regar e fomentar a vida na floresta.
A vida nom tem sentido como nom tem sentido a acumulaçom individual de riqueza. Tampouco nom busquemos a imortalidade através das artes, porque o ser humano, que só leva neste planeta uns poucos milheiros de anos, desaparecerá do universo noutros poucos milheiros de anos.
Nesta existência sem finalidade nom tem sentido que tenhamos que aturar injustiças que nos amarguem os poucos anos de vida que nos som dados. Por isso a nossa única opçom existencial, como seres humanos, há de ser a militância política, para que a ausência de teleologia vital nom nos converta em parvos apaleados.
 Estaçom de trem de Antsirabe. A morte está aí, presente desde o nacimento ao igual que a planta está presente na semente. E essa omnipresença da morte, em vez de fazer-nos conscientes das futilidades capitalistas e da necessidade da solidariedade como premissa social, encarreira à maioria da populaçom cara a umha série de crenças e superstiçons que entendo e nom entendo. Comprendo o medo, mas nom podo aceitar os sistemas religiosos nacidos desse medo, sejam extintos ou estejam ativos, porque igual de absurdo me parece o culto católico que a adoraçom a Ra ou Osíris, tam estúpidos semelham os ritos judeus como os da populaçom romana nos templos de Marte e Apolo. As religions nacem e morrem, e essa é a melhor prova da sua intrínseca falsidade.
Ah, mas a morte… Que fazer ante a desesperança da morte? Todo nace da morte. As religions nacen dos ritos funerários, tam variados como pitorescos. Ante o passamento dos seus maridos as mulheres do povo sena do sul de Malawi praticam a kulowa kufa, umha curaçom através do sexo: as viúvas ham de pechar-se vários dias com um home (a ser possível irmao do falecido) para assi espantar a morte por meio do erotismo. Em Varanasi, nas beiras do Ganga, os parentes dos defuntos queimam os cadáveres antes de guindá-los ao rio sagrado. Durante a cremaçom rompem ossos e crânios para que medulas e cérebros tenham a sua raçom de lume. Os farsis deixam os corpos nas suas “torres do silêncio” (dakhma) para serem devorados polos abutres. Estas aves tamém som essenciais nos “enterros aéreos” (jhator) do Tibet e de Ásia central, nos que os familiares despeçam os cadáveres para que preeiras ou necrófagas os ingiram doadamente.
 Bailando cos mortos. Mas o ritual funerário mais extraordinário que tivem a oportunidade de presenciar é a famadihana, a “volteadura dos ossos” que entre julho e setembro praticam os povos betsileo e merina do altiplano de Madagáscar. É umha celebraçom familiar à que está invitada toda a vizinhança. Nela exumam-se os cadáveres dos antepassados para comunicar-se com eles, celebrar o reencontro, cambiar os velhos sudários, combinar (segundo o seu estado de putrefacçom) vários cadáveres num só vulto e aproveitar para desfazer-se de algum cadaleito podre. Após umha celebraçom chea de alcool e alegria e bailes cos devanceiros, alçados no ar coas suas mortalhas novas, os mortos som retornados ao panteom familiar e a porta, que sempre mira ao ocaso, pecha-se até a seguinte ocasiom. É umha cerimônia custosa que dura vários dias e que a gente invitada ajuda a sufragar coas suas aportaçons. É um baile cos mortos nos que a tristura da morte é superada pola alegria do reencontro e polas conversas cos parentes partidos.
Tivem ocasiom de assistir a umha famadihana numha recente visita à ilha africana. Chegara umha hora antes à vila termal de Antsirabe, a 170 kms, ou quatro horas, ao sul de Antananarivo. Apenas tivera tempo de colher um pousse-pousse de tracçom humana até o hotel Chez Billy e, ao comprovar que estava completo, deixar-me guiar por um par de moços, que vagueavam diante da entrada, até um quarto na cercá pensom da família Sulby. Fôrom estes moços os que mencionárom umha famadihana que estava tendo lugar a uns poucos quilómetros de ali. Notárom o meu interesse. Eles podiam levar-me e fazer-me invitar pola família. Realmente nom contava com poder presenciar a cerimónia durante a minha viage, assi que tras sopesar brevemente a oferta aceitei pagar os 90.000 ariary (umha quantidade a todas luzes excessiva) que me pediam. O dia (e a celebraçom) rematava, assi que havia que dar-se pressa.
Chegamos num coche velho e escangalhado ao cemitério situado num pequeno outeiro a carom do lago Andraikiba, a uns sete quilómetros cara ao oeste. Centos de persoas falavam e riam e bailavam e bebiam e comiam nos postos dos feirantes. Umha banda de música amenizava a juntança, tam semelhante a umha verbena rural galega. A nom ser porque, ao pouco de chegarmos, a família, após um breve discurso desde o telhado do jazigo, abriu a tumba da que começárom a saír cadáveres, um a um, umha dúzia deles, envolveitos nos seus velhos sudários que pronto trocariam por uns novos. Nom era doado ver os detalhes, tanta gente. Fum-me achegando ao lugar onde as e os parentes se ajeonlhavam sobre os corpos, que acarinhavam, cos que falavam. Juntavam dous ou tres num só pacote, perfeitamente etiquetado cos nomes dos defuntos. Numha esquina estavam os restos de madeira do caixom do último morto, que a partir de agora vestiria mortalha de seda.
 Panteom em Antsirabe (foto: Lee La Rosa) Havia seriedade no momento do contacto cos antergos, intuía-se certa tristura. Mas pronto ficou atrás a dor da perda e a alegria do reencontro invadiu a festa e a gente puxo-se a bailar cos cadáveres, ergueitos no ar, com eles e arredor deles, os rostos sorridentes. Um parente achegou-se-me para invitar-me a unir-me à dança. Eu ensinei-lhe a minha perna vendada para declinar o convite. (Umha semana antes sofrera um pequeno acidente de moto em Nosy Boraha. No hospital de Ambodifotrota tiveram que pôr-me nove pontos de sutura no jeonlho esquerdo. A caída deixou-me dolorido e coxeante durante um mes.) O parente, indiferente, co sorriso na boca, perdeu-se bailando entre a multitude. Despois de duas horas a cerimónia chegou ao seu fim. A música cessou, os mortos regressárom ao panteom e os vivos pechárom a porta até a seguinte famadihana.
Abandonamos em massa o lugar, eu satisfeito de ter podido presenciar o momento álgido, o clímax final dumha celebraçom que durara várias jeiras. Por fim algo saía bem numha viage inçada de incidências.
Narrativas erosionadas: Maurice Blanchot visto por Gary Hill
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 10-02-19]
Thomas o Obscuro (Maurice Blanchot, 1941) é umha novela ontológica sem argumento e sem personages, porque o Thomas do título nom existe ao tempo que é todos os homes e todas as criaturas, um ser proteico que pode cessar de ser humano para se converter em gato; e Anne é, pode ser, um desdobramento de Thomas que existe e nom existe, aranha e mulher, ela e a sua mai a um tempo. Anne aparece quando Thomas morre, quiçá el morre para que ela naza. Quando Thomas morre converte-se no cadáver de toda a humanidade. Nom som, ao tempo que existo, di Thomas. Penso, e portanto nom som. Thomas é um ser sem cabeça e sem braços e sem presença, cumha absoluta ausência de desejo.
 Thomas o Obscuro. Em Thomas o Obscuro reencontramo-nos com Kafka (ao que Blanchot dedicou o seu livro De Kafka a Kafka) e antecipamos a Beckett e a Sartre. É um livro que nos le ao tempo que o lemos, de igual jeito que Thomas avança motivado polo seu rejeitamento ao avance, que se olha para nom ver-se, que morre para viver, que cria a sua morte a partir da sua existência, que está onde nunca pode estar; e de igual jeito que Anne fala quando nom pode falar e provoca contactos humanos a partir da sua imensa soidade. Ambos buscam a imortalidade no baleiro, nesta novela sobre o ser e a nada. Soidade e vazio som as palavras mais repetidas neste descenso aos infernos em busca de Eurídice. O autor cria o livro, mas é o livro o que o converte em autor. O livro le a Thomas, de igual jeito que os objetos aos que se achega o percebem e entendem e lhe doam a essência do ser. A novela remata cum prolongado berro que é como o fim dum sonho.
Mirade o que me fijo a linguage. A linguage é onde o ser humano se construi e se destrui. As palavras observam a Thomas e começam a lê-lo. Thomas, o leitor, é atacado e ferido polas palavras, polo livro que sempre está aberto na mesma página. Os olhos de Thomas som substituídos pola palavra “olhos”. De igual jeito quando o escritor escreve a sua novela é esta, a novela, a que termina escrevendo (descrevendo, definindo) ao escritor. A linguage é a autêntica protagonista da novela.
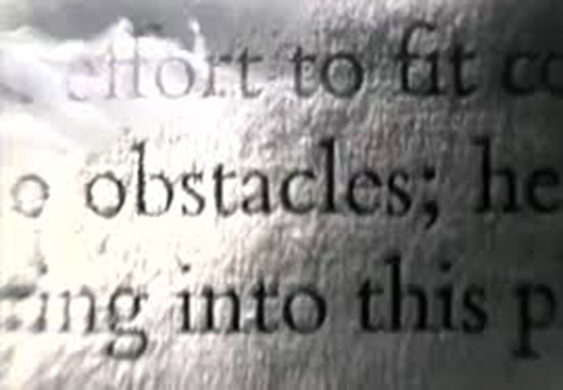 “A violência das letras incrustadas no papel”. Cheguei à novela de Blanchot intrigado pola película Incidence of Catastrophe (1988), do videasta estadounidense Gary Hill. Incidence of Catastrophe está “inspirada” na primeira parte de Thomas o Obscuro, ou mais exactamente na traduçom ao inglês de Thomas o Obscuro — traduçom visual dumha traduçom literária. Hill centra-se nos primeiros cinco capítulos da novela, que nos adentram na (in)existência de Thomas. Prescinde portanto da segunda parte (capítulos 6-10, dedicados ao ser chamado Anne e á sua relaçom com Thomas), do capítulo 11 (monólogo de Thomas sobre a morte de Anne) e do derradeiro capítulo 12, no que Thomas se desintegra dum jeito similar a como o fazia no capítulo 5. Gary Hill desbota, portanto, os aspectos mais novelescos na sua adaptaçom da novela de Blanchot, fazendo mais meritória a proeza.
A linguage tem um grande peso na videografia de Gary Hill: Electronic Linguistic (1977) investiga a linguage da tecnologia; em Videograms (1981) Hill justapom 19 narrativas abstractas, defeituosas e fragmentárias a senlhas abstracçons eletrônicas; Black/White/Text (1980) estuda a dialética entre images e sons e a materialidade dos sons; e em Processual Video (1980) centra-se no processual, esse espaço existente entre o perceptivo e o conceitual. Goats and Sheep (2001) duplica o texto, convertendo-o em eco, ao tempo que o ilustra coa linguage dos signos; e em Primarily Speaking (1983) e Around & About (1980) rompe as palavras em sílabas, cada sílaba vinculada a um plano (a voz força os cortes e em conseqüência a montage). A vocalizaçom é para Hill umha forma de materializar a voz, de converter a linguage em matéria/material sonoro. Nunca o som (a palavra) se materializou dum jeito tam gráfico como em Mediations (towards a remake of Soundings) (1986), na que a membrana dum alta-voz se vai cobrindo de area até literalmente “enterrar” a voz que del surge.
Com este historial nom resulta estranho que Hill se interessasse pola novela de Blanchot. Mas, curiosamente, na sua adaptaçom prescinde quase por completo da palavra: algumha verba solta na seqüência da cea (essas palavras simples que Thomas escoita no meio da conversa no capítulo 3: erosiom da linguage), ou as partes do corpo que um derrotado Hill/Thomas, atacado pola cámara, pronuncia ao revés (“anrep a”) na cena final. (Hill tamém tem obras puramente visuais, mudas, nas que explora a materialidade e a textura das cores electrónicas, como Windows [1978] e Rock City Road [1975].)
 Cena final de Incidence of Catastrophe. Gary Hill presta-se a encarnar o nom nomeado Thomas de Incidence of Catastrophe. A película começa, como a novela, no mar: a água erosiona a area como metáfora da desintegraçom do ser. O protagonista le um livro, ao tempo que é lido por el. A leitura erosiona ao leitor, o mar fusiona-se coa página por meio de superposiçons. As palavras impressas som rios e som bosque, no que o leitor se perde na noite. Finalmente a cámara topa-o deitado no chao, na parte exterior dumha janela. A cámara, sem cortes, retrocede ao interior da casa e move-se cara à esquerda até enquadrar à personage deitada na cama despois de passar por riba do livro cujas páginas move o vento. Noutra cena o leitor senta ante o livro, mas a cabeça cai co sono umha e outra vez: a leitura como vivência, a vida como sonho susceptível de interpretaçom.
As palavras ocupam a pantalha em planos de detalhe que desvelam a rugosidade da página e a violência das letras incrustadas no papel, violência enfatizada polos exagerados sons do passo de folhas e dos dedos roçando a página. Quando a luz se situa tras a página o texto do anverso, ilegível, funde-se co anverso. O livro le ao leitor e mesmo o ataca, fisicamente: Hill/Thomas corta-se co bordo do papel. Despois, num falso bucle, o protagonista corre cara à cámara, aparecendo e desaparecendo na obscuridade, o dedo sangrante no ar. Umha superposiçom identifica a boca do home coa cavidade semicircular dumha máquina de escrever: a palavra identifica-se co texto, o texto co ser humano, único animal articulado, e ao mesmo tempo co mundo, um mundo vivo e agressivo que ataca e perturba a Hill/Thomas provocando a catástrofe, o seu derrubamento físico e mental. E na cena final umha cámara subjetiva, da que sai um garabulho a modo de apêndice, ataca o corpo derrubado do leitor, encolheito em posiçom fetal entre os seus excrementos.
Diana Toucedo em tres tempos
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 2-03-19]
1. Ser de luz (2009, 5’). Diana Toucedo pede-me que apadrinhe umha projecçom de Trinta Lumes na sala Numax. Aproveito para revisar a primeira película que vim dela, Ser de luz, umha peça construída com material alheo na que a luz, as superposiçons e as transparências som protagonistas. As fontes originais das images som as abstracçons pintadas dos Preludes 1-6 (Stan Brakhage, 1996); material etnográfico tirado de Film ist. (Gustav Deutsch, 2002), à sua vez construída a partir de metrage encontrada; e a cena do sonho de El negro que tenía el alma blanca (Benito Perojo, 1927), que Deutsch recolhe no capítulo “Magia” da sua película. Ser de luz é cinema sobre o cinema, sobre a construçom da image (e do som) e o seu materialismo, sobre a magia e mistério da representaçom mecánica do movimento. Toucedo refilma algumhas das images desde um televisor granuloso, como se quigesse tender pontes entre a figuraçom dessas images figurativas das primeiras décadas do cinema coas abstracçons de Brakhage. Pero Ser de luz vai além do exercício plástico para denunciar, através dumha meditada escolha de images, a opressom da mulher e o racismo etnográfico. É assi que, do capítulo “Conquista” de Film ist., retoma os retratos quase policiais dumhas mulheres africanas que posam ante a cámara para serem fichadas e catalogadas (o cinematógrafo, aliado da etnografia, como arma imperialista).
 Diana Toucedo 2. En todas as mans (2015, 115’). A seguinte película que conhecim de Toucedo foi En todas as mans, um documentário mais académico no que prima o contido (análise e reivindicaçom da propriedade coletiva dos montes comunais) sobre a elaboraçom formal: o cinema como ferramenta social e política, a autoetnografia como única antropologia válida. As associaçons das comunidades de montes, as únicas existentes em tantas paróquias, vertebram a organizaçom social do território rural galego, criando dinâmicas coletivas. Todo vizinho ou vizinha dumha paróquia, a diferença dos proprietários de casas de verao, tem direito a essa propriedade comunal polo simples feito de ali viver. Segundo os estatutos, para adquirir esse direito as casas ham de estar “abertas e com fume” polo menos durante 10 meses ao ano. Som esses fumes, ou a sua escasseza, os que nos levam a Trinta lumes.
 Trinta lumes 3. Trinta lumes (2018, 81’). Trinta lumes combina a magia de Ser de luz coa realidade de En todas as mans: realismo mágico. Seguindo umha frutífera veta ruralista presente no cinema galego (Arraianos, Paris #1, A raia, Verengo), Toucedo registra labouras, ofícios e tarefas das gentes do Caurel, aquilo que constitui as suas economias familiares e industriais: apanham e vendem castanhas, mungem vacas, cocem pam, fam umha batida de caça, cortam piçarra na fábrica. É umha autoetnografia consciente, umha olhada a nós mesmos como povo, um saber mirarmo-nos e reconhecermo-nos nestes tempos de submissom política. Por se ficavam dúvidas, Toucedo inclui umha seqüência na que a mestra da escola explica ao seu reduzido alunado a mensage do hino galego e a ideologia de Pondal que, desde o nacionalismo como ferramenta para que “nom nos roubem a identidade”, fai um chamamento à loita do povo contra a escravitude.
Em Trinta lumes as aldeas baleiras e as paisages sem gente enchem-se de mistério. O vento zoa nas árvores, a chuva peta nos telhados de piçarra e a neve, como n’Os mortos de James Joyce, “cai levemente sobre todos os vivos e os mortos”. Nas casas abandonadas os mortos convivem cos vivos. A fronteira entre este mundo e o além é leviana. Alba, a protagonista, acaba cruzando-a. “Às vezes abrem-se portas”, di a narradora ao começo, ao tempo que a paisage do Caurel, nesse mesmo momento, se enche de luz. A morte está onipresente, tanto desde a quotidianeidade (limpeza das lápidas de cemitério, missa de defuntos, conversa sobre a preparaçom dos cadáveres, enterro) como desde o mito e a ficçom (relato de fantasmas, conto de mouras, película de medo, cabaças da noite de defuntos, o ar dos falecidos). E os mortos, as mortas, ficarám eternamente presentes nas velhas fotos que penduram das paredes das casas vazias.
O sobrenatural forma parte da paisage e da sociedade. A casa baleira é o símbolo da convivência (e da conivência) entre vivos e mortos, a ponte entre os dous mundos. Nela, na casa em ruínas, conflui todo, a arquitectura popular e a emigraçom, os mortos e os vivos, a demografia e o abandono do rural, o espaço e o tempo. Como nas casas habitadas só por mulheres em Homes (Toucedo, 2016, 8’), a presença dos ausentes sente-se em cada curruncho, em cada objeto, em cada piçarra caída. Em Homes os ausentes, esses homes nom presentes na image, regressam aos espaços que vivérom através das suas vozes, que som vozes prestadas de milicianos antifranquistas.
Em Trinta lumes as diferentes cenas e seqüências, que partem do realismo e semelham desconexas entre si (família, nena, escola, adolescentes, trabalhadores, missa) vam encaixando pouco a pouco, como num quebra-cabeças, graças a essa ficçom esvaída que Toucedo introduz nas images e que funciona como o cordel que une as doas dum colar.
A derradeira liçom do mestre
Alberte Pagán
[publicado em Café Barbantia o 16-05-19]
Entre o 5 de outubro de 2018 e o 3 de março de 2019 tivo lugar, no Museu Centro Gaiás da Cidade da Cultura compostelá, a exposiçom “Castelao magistral”, artelhada arredor do seu óleo A derradeira liçom do mestre. Era a primeira vez que o quadro, pintado em Buenos Aires e propriedade do Centro Galicia da capital portenha, visitava a Galiza. Titulado A derradeira leición do mestre, este grande óleo de 1945 retoma e amplia a pequena estampa número 6 que no álbum de guerra Galicia Mártir (1937) levava por título “A derradeira lección do mestre”.
 A derradeira leición do mestre (1945) Dous nenos, um de pé, o outro ajeonlhado, choram o cadáver do seu mestre assassinado polo fascismo. O mestre tem o rosto de Alexandre Bóveda, intelectual galeguista e candidato da Frente Popular fuzilado o 17 de agosto de 1936.
O 11 de outubro de 2018 solicitei permisso para filmar o quadro de Castelao cunha cámara de vídeo doméstica durante cinco minutos. A minha idea era fazer umha breve película que documentasse e deixasse constância do fugidio passo da pintura pola Galiza. Desde o departamento de comunicaçom da Cidade da Cultura invitárom-me esperar uns dias polo regresso do nesse intre ausente coordenador de “Comunicación e Marketing”, mas adiantam-me que “nom creo que haja nengum problema”. E a resposta nom tardou em chegar: “A Fundaçom Cidade da Cultura de Galiza tem cedidos os direitos de image desta obra para acçons exclusivamente vinculadas à comunicaçom da exposiçom ‘Castelao maxistral’. O emprego de images para usos doutra natureza deve ser autorizado pola propriedade do quadro: o Centro Galicia de Buenos Aires.”
 “A derradeira lección do mestre” (1937) Assi, sem mais. Nom sei, quiçá resulte ingênuo esperar que a Cidade da Cultura, que a fim de contas é quem está em comunicaçom co Centro Galicia, tramite a solicitude. Mas nom deixa de resultar curiosa a ausência, no correo do coordenador, da mais mínima cortesia, é dizer, dum nome ao que dirigir-me, um endereço, um número de telefone. Busco pola minha conta os correos do Centro Galicia e remito-lhes a petiçom. Nom recibo resposta, nem sequer o acuse de recibo solicitado (nunca entenderei por que há gente que se nega a acusar o recibo dos correos; a que tenhem medo?). Passados os dias e utilizando como escusa a possibilidade, ante a falta de resposta, de que o meu correo se perdera no limbo virtual, reenvio a solicitude. Esse mesmo dia, 26 de outubro, obtenho resposta, ainda que sucinta: “Su mail ha sido entregado a los directivos de la entidad que lo evaluarán y le responderemos.” Até hoje, o quadro já de volta em Buenos Aires, nom volvim saber deles.
A exposiçom “Castelao magistral” foi inaugurada polo presidente da Junta da Galiza, membro dum partido político que é herdeiro directo do franquismo que Castelao denúncia no seu quadro. O presidente fundador do partido formou parte do governo fascista de Franco e foi o promotor dessa faraônica obra que é a Cidade da Cultura. O seu partido sempre votou em contra ou se abstivo nas numerosas votaçons celebradas no parlamento espanhol para condenar o regime de Franco.
 La darrera lliçó del mestre (pancarta na Universidade de Barcelona, 1937) Com que ânimo se enfrenta esta gente a Castelao? Se nom podes negá-lo porque a sua figura se volveu gigante, apropria-te del, incorpora-o, fagocita-o. E é assi como convertem um quadro anti-fascista numha “homenage ao ensino”. Literalmente (tirado da página da Cidade da Cultura): “unha homenaxe ao papel que xogaron na construción do ensino público os mestres e mestras das tres primeiras décadas do século pasado (1900-1936)”. Seria cômico se nom fosse nojento.
E já que me resultou impossível deixar constância do passo d’A derradeira liçom do mestre pola Galiza, pola presente deixo constância da impossibilidade de deixar constância do passo pola Galiza d’A derradeira liçom do mestre. |